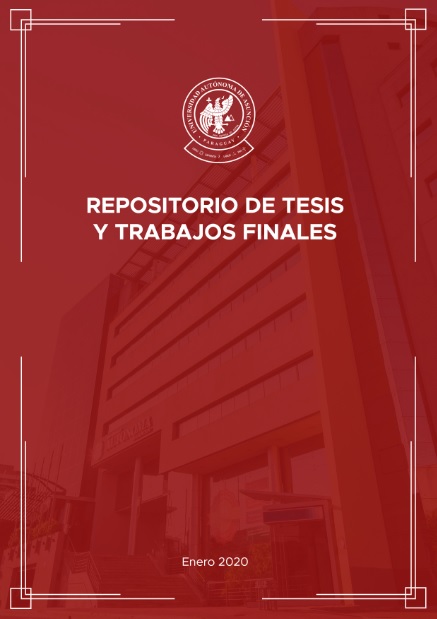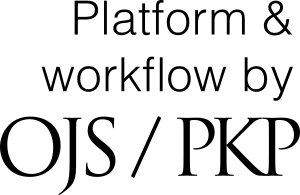DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA FIOROTTI MOREIRA EM PORTO SEGURO – BAHIA- BRASIL
Resumen
O presente pesquisa titulada como “Desestruturação familiar que influenciam no processode ensino aprendizagem da Escola Municipal Albertina Fiorotti Moreira em Porto seguroBahia-Brasil” tem como Objetivo Geral: Analisar as prováveis causas em que a famíliainfluencia na indisciplina escolar e o seu consequente insucesso. Paratanto, utilizamos ametodologia não experimental, descritiva, de corte transversal e com enfoque misto (dadosqualitativos e quantitativos). Foi realizada uma pesquisa de campo na Escola Municipal doensino público, Albertina Fiorotti Moreira, localizado na cidade de Porto Seguro, Brasil, tendocomo ênfase os alunos do ensino fundamental de primeira fase, onde variados conflitosemocionais determinam modificações no comportamento desses indivíduos. Foram aplicadosquestionários estruturados para quarenta e cinco pais e questionários semiestruturados paraquatro professores y un auxiliar de clases, para obtermos um maior esclarecimento sobre oassunto. O resultado sobre o tema, mostrou que o ambiente familiar desestabilizado comprometeo aprendizado da criança, afetando-o na sua vida emocional e social, provocando algumdistúrbio de comportamento mesmo que seja em um curto período. A instituição educacionalprecisa ter uma relação família/escola, para obter melhores resultados no aprendizado do aluno,pois uma família ausente afetará o ensino- aprendizado. Os alunos intitulados indisciplinadossão crianças agressivas, desatentas ou irrequietas e desobedientes. Pode-se perceber que aparceria família/escola é de suma importância para o desenvolvimento do aluno e que os paisdevem estar atentos e ligados diretamente nas atividades do dia-a-dia dos filhos, e que aeducação é responsabilidade da família e não de e auxiliar de classe. Conclui-se que osestudantes são diretamente afetados nesse proceso de ensino aprendizagem devido a desestruturafamiliar em que convivem;em relação aos professores abordam que a familia não vem seresponsabilizando mais pela educação de seus filhos, deixando-os a mercê dos educadores a suaobrigação como familia,enquanto aos pais tem crescido cada vez mais o processo de separaçãofamiliar,não percebendo assim que é muito importante o seio familiar para todos os envolvidosneste processo de ensinoprendizagem.Citas
Albernaz, R. O., e Marques, C. S. P. (2013). A Instituição Familiar e a Relação Humana de
Familialidade. Periódicos Eletrônicos em Psicologia: São Paulo, abril, v. 13, nº 26.
Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S1519-
X201300010000
Almeida, A. P. D. (2011). Quando o vínculo é doença: A influência da dinâmica familiar na
modalidade de aprendizagem do sujeito. Periódicos Eletrônicos em Psicologia: São
Paulo,v.28,nº86.Recuperadodehttp://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0103-84862011000200011
Almeida, S. M. (2007). Entendendo as Famílias do Século XXI. Revista Religare: Salvador, 25
junho. Recuperadodehttp://www.religare.com.br/blog/entendendo-as-familias-doseculo-
xx
Almeida, E. B. (2014). A relação entre pais e escola: a influência da família no desempenho
escolar do aluno. Campinas, SP. Recuperado de
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/AlmeidaEmanoelleBon%C3%A1ciode_TCC%20(
Alvarenga, E. M. D. (2012). Metodologia da Investigação Quantitativa e Qualitativa.
(Versãoem Português por Cesar Amarilhas), Assunção, Paraguai.
Andrade, C. (2008). O que se entende por família eudemonista? Artigonal. Diretório de Artigos
Gratuitos, 03 de outubro. Recuperado de https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/117577/oque-
se-entende-por-familia-eudemonista-camila-andrade
Arnal, J., Ricón, D. & Latorre, A. (1994). Investigação educativa. Fundamento y metodologia.
Labor Universitaria: Bracelona.
Bacelar, J. (2018). HistóriadePortoSeguro.Recuperadodehttp://www.bahia-turismo.com/portoseguro/historia.htm
Barreto, L. H. D. (2003). Considerações sobre a guarda compartilhada. Jus Navigandi:
Teresina, ano 7, nº 108, 19 outubros. Recuperado de
https://jus.com.br/artigos/4352/consideracoes- sobre-a-guarda-compartilhada
Bauman, Z. (2001). Modernidade líquida (1ª ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Bauman, Z.
(2004). Amor líquido (2ª ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Berger, P., e Kellner, H. (1970). Casamento e a construção da realidade. (Org.), Sociologia
Recente, p. 20-38. MacMillow: Nova York.
Bodin de Moraes, M. C. (2010). Na medida da pessoa humana (1ª ed.). Renovar: Rio de Janeiro.
Boni,V.e Quaresma,S.J.(2005).Aprendendoaentrevistar:como fazer entrevistas em
Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC,v. 2
nº 1(3), janeiro/julho, p. 68-80. Recuperado dewww.emtese.ufsc.br Brasil. (1988).
Presidência da República Constituição da República.
Brasil. (1990). Presidência da República Casa Civil. Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras Previdências.
Brito, T. M. L. (2007) Família pós-divórcio: Visão dos filhos. 2007. Recuperado de
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141498932007000100004&script=sci_abstract&
tlng=ptChaer G., Diniz, R. R. P. & ribeiro, E. A. (2011). A técnica do questionário na
pesquisa educacional. Evidência: Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266. Recuperado de
http://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/view/201
Cunha, M. V. (2000). Psicologia da Educação (4ª ed.). DP & A: Rio de Janeiro.
Cury, A. J. (2003). Pais brilhantes, professores fascinantes (1ª ed.). Rio de Janeiro: Sextante.
Dambros, R. E. e Castanha, A. P. (2014). Escola e família: enfrentado a indisciplina para
harmonizar o espaço escolar. Revista: Os desafios da escola pública paranaense na
perspectiva do professor P D E .Recuperado de
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2
/2014_unioeste_gestao_artigo_regina_elena_dambros.pdf
Deldime, R. e Vermeulen, S. (2001). O desenvolvimento Psicológico da Criança (1ªed.).
Edições Asa: Lisboa.
Dessen, M. A. e Polonia, A. C. (2007). A Família e a Escola como Contextos de
Desenvolvimento Humano.Universidade de Brasília. Recuperado de http:// www.scielo.
br/pdf/paideia/v17n3 6/v17n36a03.pdf.
Dias, M. B. (2007). Manual de direito das famílias (5aed.). São Paulo: Revista dos Tribunais.
Dias, M. B. (2009). Manual de Direito da Famílias (4ª ed.). Revista dos Tribunais:
SãoPaulo. Diniz, M. H. (2014). Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família
(29a ed.). São Paulo: Saraiva.
DSM-5. (2014). Manual diagnostico e estatístico de transtornos mentais (5a ed.) Porto Alegre:
Artmed.
Engels, F. (2006). A origem da família, da propriedade privada e do Estado (3ªa ed.). São Paulo:
Centauro.
Estrela, M. T. (2002). Relação pedagógica, disciplina e indisciplina na aula (4ª ed.). São Paulo:
Porto Editora.
Vasconcellos, M. J. (2006). Epistemologia sistêmica: pensamento sistêmico novoparadigmático.
In: Aun, J. G., Esteves Vasconcellos, M. J., e Coelho, S. V. (org.).
Féres-Carneiro, T. (2005). Família e casal: efeitos da contemporaneidade (1ªed.) .Rio de
Janeiro: Puc. Fernandes, F. M. B. (2011). Considerações Metodológicas sobre a Técnica
da Observação Participante. In MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para
análise das políticas de saúde, 2011. p. 262-274. Recuperado dewww.ims.uerj.br/ccaps
Ferreira, A. B. H. (2000). Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (3ª ed.). Nova Fronteira:
Rio de Janeiro.
Follet, M. P. (1997). Profeta do Gerenciamento (1a ed.). Tradução de Eliana Chiocheti e Maria
Luiza de Abreu Lima. Rio de Janeiro: Qualitymark.
Garcia, C. V. S. (2014). Escola e família: possibilidades e limites de integração. V. II. In. Os
desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE:Produções
Didático- Pedagógicas:Maringá. Recuperado de http://www.di aadiaeducacao.pr.go
v.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uem_gestao_pdp_celma_vanderl
eia_dos_santos.pdf
Garcia, J. (2001). Gestão da Indisciplina na Escola. XI Colóquio da AFIRSE/AIPELF.
Indisciplina e Violência na Escola. Universidade de Lisboa, Lisboa, novembro.
Giddens, A. (2002). Modernidade e identidade (1a ed.). Rio de Janeiro: J. Zahar.
Granato, A. e de Mari, J. (1999). Unidos pelo divórcio: os meus, os seus, os nossos. Veja, v. 32,
nº. 11, p. 108-115, março.
Grzybowski, L. S. e Wagner, A. (2010). O envolvimento parental após a separação / divórcio.
Psicol. Reflex. Crit. [online], v. 23, n.º 2, p.289-298.
Recuperado dehttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
X2017000400487
Guedes, C. (2005). Sociabilidade e Sociedade de Risco: um estudo sobre relações na
modernidade. Rio de Janeiro: PHYSIS - Rev. Saúde Coletiva. Recuperado de
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312005000200009
Gomes, J. V. (2015). Família e socialização. USP: São Paulo, v.3 nº 1-2. Recuperado de
www.revistas.usp.br/psicousp/article.
Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social (6a ed.). Atlas: São Paulo.
Hair, J. F.; Babin, B.; Money, A.H.; Samouel, P. (2004). Fundamentos métodos de pesquisa em
administração (1a ed.). Porto Alegre: Bookman.
Hernández, S. L., M. (2013) Metodologia de pesquisa (5a ed.). Porto Alegre: AMGH.
Hycner, R. (1995). De pessoa a pessoa. Psicoterapia dialógica (3ª ed.). Tradução de Elisa Plass.
Z. Gomes, Enila Chagas, & Márcia Portella. São Paulo: Summus.
IBDFAM. (2005). Instituto Brasileiro de Direito de Família. Atuação. Abrangência Nacional.
Recuperado de http://www.ibdfam.org.br/conheca-o-ibdfam/atuacao.
IBGE. (2002). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil.
Anuário Estatístico Brasileiro. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Recuperado de.
IBGE. (2005). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas do Registro Civil
Anuário Estatístico Brasileiro. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Recuperado dehttp://www.ibge.gov.br/
IBGE. (2006). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese dos Indicadores Sociais.
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Recuperdo de
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimo
s/sinteseindicsociais2005/default.shtm
Instituto Unibanco. (2016). O que fazer para aproximar família e escola? Revista Eletrônica:
Aprendizado em foco, Nº 9. Recuperado de
https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/9/index.html
Jardim, A. P. (2006). Relação entre Família Escola: proposta de Ação no Processo Ensino–
Aprendizagem. Recuperado de http://www.livrodgratis.com.br
Kramer, S. (1987). A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce(3aed.).RiodeJaneiro:
Dois Pontos.
La Taille, Y. (2000). Formação ética: direitos, deveres e virtudes. Revista Pátio. n.13. Porto
Alegre: Artmed, maio/julho.
Machado, L. R. S. (2008). Diferenciais inovadores na formação de professores para a educação
profissional. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, Brasília, v. 1,
nº1.Recuperadodehttp://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/licenciatura_propostafin
al.pdf.
Maldonado, M. T. (2000). Casamento, término e reconstrução: o que acontece antes, durante e
depois da separação (7a ed.). Revisada e ampliada. São Paulo: Saraiva.
Marconi. M. A. e Lakatos, E. M. (1999). Técnicas de pesquisa (2a ed.). São Paulo: Atlas, 1999
Moreira,M. I. C., Bedran, P. M., e Carellos, S. M. S. D. (2011). A família
contemporânea Brasileira em contexto de fragilidade social e os novos direitos das
crianças: desafios éticos. Psicologia em Revista, nº17 (1), p.161-
Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
Newcombe, N. (1999). Desenvolvimento infantil (8a ed.). Porto Alegre: Artmed.
Nogueira, M. A. (2006). Família e Escola na contemporaneidade: os meandros de uma relação.
Educação e Realidade, p.155-170, julho. Recuperado de
ttps://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/6850.
Nogueira, M. O. E. e Nogueira, M. A. (2017). Quando os professores escolarizam os filhos na
rede pública de ensino: da inevitabilidade à colonização. Educação em Revista (UFMG)
v. 33, p. 01-26. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
&script=sci_abstract&tlng=pt
Oliveira, N. H. D. (2009). Recomeçar: família, filhos e desafios [online]. São Paulo: Cultura
Acadêmica. Recuperado de http://books.scielo.org/id/965tk/01
Oliveira, E. (2003). União estável: do concubinato ao casamento antes e depois do novo Código
Civil (6a ed.). São Paulo: Método.
Parrat-Dayan, S. (2009). Como enfrentar a indisciplina na escola (2a ed.). São Paulo: Contexto.
Parrat-Dayan, S. (2012). Como enfrentar a indisciplina na escola (2a ed.). São Paulo:
Editora Contexto.
Paschoal, G. R. e Marta, T. N. (2012). O papel da família na formação social de crianças e
adolescentes. Confluências: Niterói, v. 12, nº 1, p. 219-239. Recuperado de
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/20014-74799-1-PB.pdf
Paro, V. H. (2007). Qualidade de ensino: a contribuição dos pais (2a ed.). São Paulo: Ed. Xamã.
Parolin, I. (2008). Relação Família e Escola: Revista atividades e experiências (22a ed.).
Positivo.
Pereira, C. M. S. (2004). Instituições de Direito Civil. Atualizado por Tânia de Silva Pereira
(14a ed.). Rio de Janeiro: Forense, v. 5.
Piaget, J. (2000). Para onde vai a educação? (15a ed.). Rio de Janeiro: José Olympio.
Prá, D. D. (2013). A diversidade na configuração familiar: uma revisão da literatura.
Institutode Psicologia. Porto Alegre, abril de 2013. Recuperado de
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/117876.
Rego, T. C. (1996). A indisciplina e oprocesso educativo: uma anális e na perspectiva
vygotskiana.In:Aquino,J.G.Indisciplinanaescola:alternativaspráticaseteóricas(17aed.).
SãoPaulo: Summus,p.83-101.
Reis, L. P. C. (2010). A participação da família no contexto escolar. Monografia, Universidade
do Estado da Bahia, Salvador, BA, Brasil.
Ribeiro, E. (2008). A perspectiva da entrevista na investigação qualitativa. In: Evidência,
olhares e pesquisas em saberes educacionais. nº 4, maio, Araxá: Centro Universitário do
Planalto de Araxá. Recuperado de
http://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/view/328
Ríoz-González, J. A. (1994). Manual de orientación y terapia familiar. Madrid: Fundación de
Ciencias Del Hombre.
Ríoz-González, J. A. (coord.) (2003). Vocabulario básico de orientación y terapia familiar.
Madrid e:ditorial CCS.
Ríoz-González, J. A. (2009). Personalidad, madurez humana y contexto familiar.Madrid:
EditorialCCS.
Rodrigues, C. M; Cunha, N. (2010). O desenvolvimento de competência psicossociais como
fator de proteção ao desenvolvimento infantil. Recuperado
dehttp://pepsic.bvsalud.org/pdf/eip/v1n2/a08.pdf
Sampieri, H.R.; Collado, C. F.; Lucio, P. B. (2010). Metodología de la Investigación(5aed.).
Editora Mc. Graw Hi. México.
Santana, K. C. (2015). A influência da família e da escola na formação integral da criança. III
Congresso Nacional de Educação. Recuperado de
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD
_SA17_ID2022_03052016194131.pdf
Santos, M. C. (2002). Trabalho Experimental no Ensino das Ciências. Lisboa: Ministério da
Educação (MEC), Instituto de Inovação Educacional.
Santos, S. M. M. (2013). Os efeitos no divorcio na família com filhos pequenos.
Salvador.Recuperado de http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0342.pdf.
Santos, E. (1999). Direito da Família (1a ed.). Coimbra: Almedina.
Sarti, C. (2008). Famílias enredadas. Família, rede, laços e políticas públicas. São Paulo:
Instituto de Estudos Especiais, São Paulo: PUC.
Schmidt, M. A. M. S. (1997). Infância Sol do Mundo: a primeira conferência nacional de
educação e a construção da infância brasileira. Tese Doutorado, Universidade Federal
do Paraná Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
Silva, I. T. O. e Gonçalves, C. M. (2016). Os efeitos do divórcio na criança. Revista: Psicologia:
portal dos psicólogos. Recuperado dehttp://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1042.pdf
Sousa, J. P. (2006). A prática antes da teoria e o foco no objetivo: uma proposta para o
ensinoniversitário de jornalismo. In: Moreira, S. V.; Vieira, J. P. D. (Org.). Ensino e
Pesquisa em Comunicação (2a ed.). São Paulo/Rio de Janeiro, Intercom/UERJ.
Souza, M. R. (2000). Depois que papai e mamãe se separaram: Um relato dos filhos.
Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ptp/v16n3/4807.pdf
SzymanskI, H. (2002). Viver em família como experiência de cuidado mútuo: desafios de um
mundo em mudança. In: Serviço Social & Sociedade: São Paulo, ano 23, nº 71, p. 9-25,
setembro.Recuperadodehttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S
- 166X200400020000100025&lng=pt
Tiba, I. (2002). Quem Ama, Educa! (29a ed.). São Paulo: Gente.
Tiba, I. (2006). Disciplina, limite na medida certa (81a ed.). Editora Integrare: São Paulo. Toni,
C. T. (2007). A união estável e a união homoafetiva do direito penal. Tese de doutorado,
PUC, São Paulo, SP, Brasil.
Vasconcellos, C. S. (2009) Indisciplina e disciplina escolar: fundamentos para o trabalho
docente (1a ed.). São Paulo: Cortez.
Venosa, S. S. (2013). Direito civil: parte geral (13a ed.). São Paulo: Atlas.
Vianna, R. R. A. B.; Campos, A. A. e Landeira-Fernandez, J. (2009). Transtornos de ansiedade
na infância e adolescência: uma revisão. Rio de Janeiro. Recuperado de
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
Wagner, A. (2011). Desafios psicossociais da família contemporânea. Pesquisas e Reflexões
(1a ed.). Porto Alegre: Artmed.
Wagner, A., Levandowski, D. C. (2008). Sentir-se bem em família: um desafio frente à
diversidade. Revista Textos e Contextos, 7 (1), 88-97. Recuperado de
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/3940
Xavier, T. M. L. S. (2016). A família: das relações tradicionais ao poliamor. UNISALESIANO:
Lins. Recuperado de http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/60469.pdf